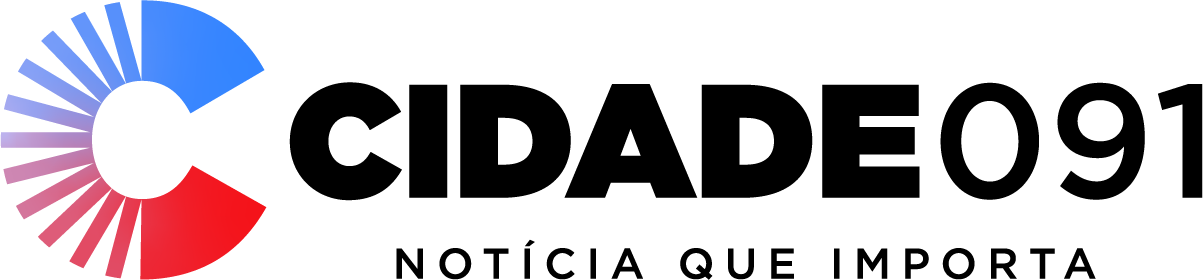- 21 de fevereiro de 2026
Quando a Justiça fecha os olhos, abandona a vítima e protege o estuprador

A recente absolvição de um homem de 35 anos acusado de estupro pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, sob o argumento de “vínculo afetivo consensual” com uma menina de 12 anos, não é apenas um equívoco jurídico. É um retrocesso moral.
É um daqueles momentos em que a balança de Têmis parece pender não pela força das provas, nem pela letra da lei, mas pela complacência com narrativas que afrontam a própria ideia de proteção à infância.
A decisão lembra, com perturbadora semelhança, o argumento torpe da “defesa da honra” brandido no caso de Doca Street, no julgamento do assassino de Ângela Diniz, revisitado recentemente em minissérie. À época, tentou-se vestir de nobreza o que era brutalidade. Hoje, tenta-se revestir de afeto o que a lei define como vulnerabilidade.
É crime. E dos mais desprezíveis.
O verniz muda, mas a essência permanece. Trata-se da perigosa tentação de relativizar o inaceitável, de suavizar a violência com palavras dóceis, como se o léxico pudesse absolver o que a consciência condena.
Não há “consentimento” quando se trata de infância. A lei não é capricho moralista, mas muralha civilizatória erguida para proteger quem não pode se proteger. Ao admitir a tese de um suposto vínculo afetivo entre adulto e criança, o tribunal arrisca transformar a exceção em brecha, e a brecha em precedente. E precedentes, na história do Direito, são como fendas em represas: começam estreitos, mas cedem à pressão do tempo.
Nem todo costume pode se sobrepor à lei que protege os mais frágeis. A civilização também se mede pelo cuidado com suas crianças. Quando o Estado hesita nesse dever, falha não apenas juridicamente, mas eticamente.
É impossível não pensar na menina, na assimetria brutal entre seus 12 anos e os 35 de quem deveria saber melhor. A infância não é território de experimentação afetiva para adultos. É um espaço sagrado de formação, de descoberta do mundo, sob tutela e segurança.
Ao relativizar isso, a Justiça envia às famílias um recado inquietante: a proteção pode ser negociável. A história brasileira já conheceu o preço da indulgência travestida de argumento jurídico elegante. Sabe-se onde ela nos levou: à humilhação das vítimas e à perpetuação de estruturas de poder que esmagam os vulneráveis. Repetir esse roteiro é mais que imprudência: é cegueira deliberada.
A Justiça não pode ser refém de retóricas sedutoras. Deve ser farol e não espelho das conveniências. Se a lei existe para proteger os frágeis, qualquer decisão que os exponha corrói sua própria razão de ser. E uma Justiça que tolera a erosão de seus fundamentos arrisca-se, sem meias palavras, a perder o direito de se chamar Justiça.